
Há muitos momentos para apontar como “o momento em que o Marvel Cinematic Universe realmente começou”. Mas um dos maiores concorrentes é o final do primeiro Homem de Ferro, de 2008, um ano antes da Marvel ser comprada pela Disney.
Anos antes de qualquer pessoa ter noção de quanto aquela empreitada alcançaria, culturalmente e financeiramente (embora não muito cinematograficamente).
Depois do Estalo
Tony Stark – O trauma da responsabilidade

Thor – O príncipe liberto

Viúva Negra – Vingadora Quintessencial

Por não protagonizar nenhum filme, e por ser uma femme fatale, a Viúva Negra é um dos personagens principais cuja trajetória é a menos gratificante, mas ainda assim é dela um dos papéis mais críticos de Ultimato.
Scarlett Johansson sempre teve que trabalhar com o que lhe era dado, normalmente o papel de “ruiva sexy” e pouco mais (em especial na sua estreia em Homem de Ferro 2). Mas o que era um papel insosso cresceu, tanto pela maturidade crescente dos filmes, quanto pelo carisma e talento da atriz.
Gavião Arqueiro – O trauma tem muitas faces

Capitão América – O homem sem arco

A “personalidade” do MCU começou com aquela frase de Stark, mas seu coração, o ethos, inicia no momento que o comandante rabugento interpretado por Tommy Lee Joneslança uma granada-fria no meio de seus recrutas, tentando provar para o cientista ao seu lado (Stanley Tucci), de certa maneira, que não existem super-heróis. Então o franzino Steve Rogers se joga na granada e prova que ele está errado.
Não é à toa que o protagonismo de Ultimato, enquanto muito mais pulverizado em Guerra Infinita, cai mais plenamente nos ombros do Capitão América. Não só isso, mas a última imagem do filme é o encerramento de sua macro-jornada através das décadas e dos filmes.
O plano original do primeiro filme dele era ter outro ator interpretando o Steve Rogers “pré-super-soldado”, e Chris Evans lutou para que dessem um jeito de colocá-lo naquela forma. Para ele, aquela era a parte importante da sua atuação, e não a parte “herói de ação”. Porque o Capitão América não é um “personagem” no melhor sentido que temos nos outros.
Steve Rogers, no final de Vingadores – Ultimato é o mesmo Steve Rogers que aparece magricelo no começo de Capitão América – O Primeiro Vingador. Ele só tem mais experiência, 60 kilos de músculos e mágoas. Mas nada do que ele aprendeu fez com que mudasse seu modo de pensar, alterasse sua perspectiva. Há até uma piada na internet que diz que Rogers é o único que é capaz de conhecer dois deuses e permanecer cristão, assim como Tony Stark é o único capaz de conhecer dois deuses e permanecer ateu.
O Capitão América é o líder ideal porque ele é imutável. Ele nunca vai ser indigno de confiança. Ele é o agente de mudança em todos aqueles à sua volta. Em todos os filmes onde é protagonista, Rogers é visto como um farol de persistência e de assertividade moral. Até mesmo os motivos pelos quais sua moral é questionada são motivos excelentes em Guerra Civil. E o final daquele filme sublinha de maneira grosseira quem estava certo.
Rogers é o raro exemplo onde um personagem pode ser emocionalmente humano e limitado (ao mesmo tempo que está “estagnado” em termos de crescimento), e mesmo assim funcionar como um personagem, mesmo que pela via arquetípica. Porque ele, em si, é a parte menos “funcional” da história. Devemos olhar para todo mundo em volta dele. Seus comparsas, amigos, parceiros e interesses amorosos todos são levados a melhorar como seres humanos simplesmente por estarem junto dele.
Assim como a bandeira em seu uniforme, Rogers é um ideal imutável. Ou melhor, é um ideal cuja forma é mutável, já que o que não muda é seu status como “topo do valor moral”, mas “como chegar nesse topo”.
Thanos – O Anti-Vingador

Thanos é também um personagem mais “arquétipo” do que “personagem mesmo”. Contrariando invenções geniais do MCU como Loki ou Killmonger, Thanos é um “personagem sem personagem”, com ainda menos conteúdo “humano” do que o Capitão América.
O maior problema de Guerra Infinita é o seu vilão. E é muito difícil de perceber isso porque Thanos é estupidamente bem feito. A emoção, a sinceridade e a entrega de Josh Brolin e do time de feiticeiros digitais nos dão uma criatura perfeitamente renderizada, articulada e até de certo ponto carismática. Mas para carregar todo o peso de ser o “Darth Vader do Século XXI”, Thanos precisava de razões lúcidas para sua vilania.
Thanos nunca explica “porque quer salvar o Universo”. Só explica que quer salvá-lo com uma teoria malthusiana ultrapassada, e que o faz por ter sido ridicularizado pela liderança de um planeta morrendo. Mas a conexão emocional com sua missão, para a qual o próprio Thanos aponta tanto, é um espantalho oco. Se ela existe, não a vemos no filme. Thanos expressa, de novo e de novo, sobre o quão altruísta é sua missão, mas não nos dá nenhuma base para crer nisso além das lágrimas digitais impossivelmente convincentes de Josh Brolin.
Nos quadrinhos, Thanos tem uma motivação muito mais “bobagem dos quadrinhos”, que é impressionar a Morte. Ele quer matar 50% do universo como se fosse um presente caro para uma mulher, e essa mulher é o espírito da Morte personificada. É bem literalmente uma caveira com peitos. Enquanto essa explicação de que o vilão “só queria transar” jamais colaria na tela do cinema em 2018, pelo menos há uma linha que explica a guia emocional dele, por mais tosca que seja.

Thanos e a Morte
O pouco que temos de uma dramatização de seus motivos nos filmes vai pelo lado oposto do dito altruísmo. Logo no começo de Guerra Infinita, Loki, da maneira mais Loki possível, usa seu último suspiro para alfinetar Thanos onde dói: “Você nunca será um deus”. Vemos que isso incomoda Thanos, que talvez lá no fundo essa missão toda seja só para afagar seu ego e que qualquer “bem” que ele queira fazer é um simulacro infantil.
Mas o filme ignora isso e segue em frente, preferindo colocar na tela “o preço que Thanos paga” ao assassinar a própria filha. Que, segundo as forças cosmológicas do universo, traduzidas pelo Caveira Vermelha (Ross Marquand, substituindo Hugo Weaving), é um ato real de sacrifício, porque Thanos realmente ama sua filha. É infinitamente (risos) mais fraco do que o que temos entre o Arqueiro e a Viúva Negra. Mas parte de porque é fraco é a filosofia própria do vilão, de ser um anti-vingador.
Thanos é a antítese do heroísmo MCU porque ele jamais sacrificaria a si mesmo. Thanos quer sacrificar “o outro” pelo bem maior. Quer que metade do universo viva, às custas da morte dos outros 50%. E, é claro, quer colocar a si mesmo no 50% sobrevivente. Mesmo que o Capitão América seja mais um símbolo do que uma pessoa, ele sempre coloca “aquela pessoa que é” na frente da bala.
Sendo assim, Thanos é só um transporte para o problema. Ele importa muito menos do que “a estalada”, razão pela qual não só ele não é tão importante em Ultimato, como, sem razão nenhuma, muda a ideia de “o quanto quer destruir” no final, só para “aumentar as apostas”. E então ele é vencido, é claro, por um sacrifício pessoal máximo.
Custe o que custar
Inevitavelmente, com contratos acabando e com o trabalho terminando, podemos galgar um preço dramático finalmente verdadeiro. E, mais do que isso, destilar o MCU em uma frase e outro estalar de dedos. O ato final de Tony Stark une tanto a personalidade, o “pós-modernismo” do MCU, com sua origem moral.
E isso nos leva à conclusão de todos os arcos, ao fechamento das histórias. Um final feliz custoso, com menos um sabor amargo e mais uma explosão de imagens insanas (ainda custo a acreditar que eu vi o Homem-Aranha pegando carona num Pégaso), mas sem deixar de dar o tempo emotivo necessário a todas as partes.
A Distinta Concorrência sempre tentou comparar seu herói máximo à figura de Jesus Cristo por isso ser a “metáfora barata e rápida” que mais traria o prestígio moral. Porém, mesmo com o patriotismo bélico atrapalhando muito a comparação, o MCU foi além e fez um dever de casa mais embasado no que realmente significa sacrifício.
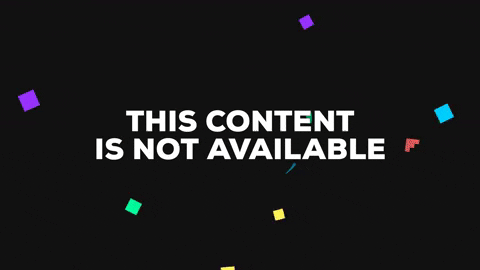

O próprio Tony Stark, no final de Vingadores Ultimato, fala algo no sentido de “Quando isso começou, eu não imaginava onde estaríamos hoje”, um dos infinitos (há) momentos “meta” da saga que transformou a aparição de um de seus criadores num carimbo de aprovação.


Tony Stark (Robert Downey Jr., aqui ainda chocando o mundo com talvez a mais perfeita escolha de casting do cinema recente), colocado na frente de um monte de jornalistas para negar sua participação em eventos cheios de efeitos especiais, dá o passo mais natural para sua personalidade até então e fala a frase imortal (ainda mais imortalizada agora): “Eu sou o Homem de Ferro.”
Começa aí a construção desse universo novo. Heróis que querem conquistar o século XXI, deixando para trás as amarras de coisas como “identidades secretas” e começando com a declaração de quem são.
Heróis são HERÓIS. Não se separa mais o Homem de Ferro de Tony Stark (“Eu sou a armadura”), Steve Rogers do Capitão América e nem mesmo Peter Parker do Homem-Aranha (seu primeiro filme “De Volta ao Lar” termina com a Tia May descobrindo seu segredo). Não só isso traz um novo paradigma (ou a falta de um paradigma clássico) que define melhor esses “heróis do cinema”, como ajuda a unir as jornadas dos personagens.
O “Eu sou o Homem de Ferro”, onze anos depois, traz a ideia de que a Marvel estava pegando a coroa e colocando-a na própria cabeça no mundo do cinema de entretenimento. Ela (mais personificada na pessoa de Kevin Feige, o produtor-midas de todo o MCU) é quem iria definir não só o cinema de entretenimento da nova década, mas também definir o que é heroísmo num mundo pós 11 de setembro.
Essa definição não foi tão longe em termos de “inventividade filosófica”, por bem ou por mal. Os heróis do MCU, ou seja, os Vingadores, são definidos por vários aspectos em comum, mas um acima dos outros, verbalizado pelo Capitão América de Chris Evans em Guerra Infinita: não trocamos vidas.
Essa definição não foi tão longe em termos de “inventividade filosófica”, por bem ou por mal. Os heróis do MCU, ou seja, os Vingadores, são definidos por vários aspectos em comum, mas um acima dos outros, verbalizado pelo Capitão América de Chris Evans em Guerra Infinita: não trocamos vidas.
O “sacrifício pelo bem maior” nunca pode passar pelo outro. É sempre um autossacrifício. Sabiamente, Feige e seu time de criativos orientados “bem de perto” utilizaram essa linha guia mais ou menos da mesma maneira, em várias instâncias diferentes ao longo da década. E isso culmina num filme surpreendentemente contemplativo, épico e gratificante em Vingadores – Ultimato.
Depois do Estalo
Ultimato começa quase onde Guerra Infinita terminou. Os heróis estão atordoados, tendo acabado de perder metade da vida no universo, e saem em busca de soluções e de vingança. Depois de um confronto desanimador com Thanos versão previdência social Brasil, percebem que não têm escolha senão aceitar que falharam. Alguns decidem abraçar uma nova vida, outros decidem continuar na ativa.
É nessa “ativa” que começamos a ver o filme armar sua mensagem de esperança e justiça, a mensagem-mor que é acompanhada desde o começo pelo Capitão América. Ao invés de vermos ele na caça de criminosos ou terroristas, ele está guiando uma terapia em grupo focado em pessoas danificadas pela perda do Estalo.
É nessa “ativa” que começamos a ver o filme armar sua mensagem de esperança e justiça, a mensagem-mor que é acompanhada desde o começo pelo Capitão América. Ao invés de vermos ele na caça de criminosos ou terroristas, ele está guiando uma terapia em grupo focado em pessoas danificadas pela perda do Estalo.
Um deles, inclusive, é interpretado por um dos diretores do filme, Joe Russo, e outro é interpretado por Jim Starlin, um dos criadores de Thanos. Joe é simplesmente um cara anônimo que está tentando encontrar amor pela primeira vez desde que o universo perdeu metade da vida. O que o Capitão está fazendo aqui é ajudar a reconstruir.
A ideia de uma “ação bélica vingativa” sempre saiu de Tony Stark (sua célebre frase dita a Loki (Tom Hiddleston) no primeiro Vingadores, “Se não podemos proteger a Terra, podemos vingá-la”) e de Thor, que no desespero de se redimir por sua falha infantil em Guerra Infinita, assassina um Thanos rendido, o que não causa efeito nem alívio.
A ideia de uma “ação bélica vingativa” sempre saiu de Tony Stark (sua célebre frase dita a Loki (Tom Hiddleston) no primeiro Vingadores, “Se não podemos proteger a Terra, podemos vingá-la”) e de Thor, que no desespero de se redimir por sua falha infantil em Guerra Infinita, assassina um Thanos rendido, o que não causa efeito nem alívio.
Steve Rogers quer “pegar aquele filho da mãe” para reverter o que foi feito, não pela vingança. E agora que não há mais nada a fazer, o Capitão encontra um foco: andar para frente. Alguém que já perdeu tudo antes, por escolha própria, é a perfeita liderança para juntar os cacos e montar uma humanidade nova.
Então um rato recupera Scott Lang (Paul Rudd), o Homem-Formiga, e ele cria um plano mirabolante para voltarem no tempo e recuperarem as Joias do Infinito, revertendo o que Thanos fez de uma vez por todas.
Os heróis vencem barreiras pessoais, físicas e cômicas, e num acidente, acabam trazendo o Titã Louco de um momento no passado para o presente. Então precisam da ajuda de todo mundo – TODO MUNDO MESMO – para finalmente derrotar o gigante roxo.
O filme é uma sequência de finalizações de arcos e, na grande maioria, fecha todos de maneira tocante e satisfatória. Ao mesmo tempo que contempla mais do que as ideias de fracasso e de reconstrução, contempla também todos esses anos e todos esses filmes. Embora não queira “recontextualizar os filmes com um ponto de vista diferente”, como poderia ter procurado fazer, Ultimato vai atrás de não só homenagear, tirar sarro e achar momentos de catarse emocional, mas de dizer um adeus a esse passado conosco, seus fãs.
E é porque este filme pretende terminar tantos arcos, criados por tantos roteiristas e diretores, que podemos separar alguns deles e pensar em como se encaixam neste gigantesco quebra-cabeça que é Ultimato, tendo em foco a principal peça de todas nesses onze anos: a ideia de sacrifício.
Então um rato recupera Scott Lang (Paul Rudd), o Homem-Formiga, e ele cria um plano mirabolante para voltarem no tempo e recuperarem as Joias do Infinito, revertendo o que Thanos fez de uma vez por todas.
Os heróis vencem barreiras pessoais, físicas e cômicas, e num acidente, acabam trazendo o Titã Louco de um momento no passado para o presente. Então precisam da ajuda de todo mundo – TODO MUNDO MESMO – para finalmente derrotar o gigante roxo.
O filme é uma sequência de finalizações de arcos e, na grande maioria, fecha todos de maneira tocante e satisfatória. Ao mesmo tempo que contempla mais do que as ideias de fracasso e de reconstrução, contempla também todos esses anos e todos esses filmes. Embora não queira “recontextualizar os filmes com um ponto de vista diferente”, como poderia ter procurado fazer, Ultimato vai atrás de não só homenagear, tirar sarro e achar momentos de catarse emocional, mas de dizer um adeus a esse passado conosco, seus fãs.
E é porque este filme pretende terminar tantos arcos, criados por tantos roteiristas e diretores, que podemos separar alguns deles e pensar em como se encaixam neste gigantesco quebra-cabeça que é Ultimato, tendo em foco a principal peça de todas nesses onze anos: a ideia de sacrifício.
Tony Stark – O trauma da responsabilidade

O Universo Marvel nasceu com Tony e seu poder bélico. Ainda não muito sincronizado com toda a mensagem que os filmes seguintes trariam (e, novamente, quem imaginaria quão longe chegariam?), Tony é um herói de ação que precisa passar por uma transformação.
O primeiro filme trabalha com isso, em quebrar Tony através de sofrimento e dos ensinamentos de um sábio “inimigo”. Yinsen, seu parceiro de prisão no começo do filme, é de ascendência árabe, o “povo inimigo” dos Estados Unidos na época da segunda Guerra do Iraque que dá o pano de fundo à história.
Algo que viria a ser comentado novamente em Capitão América – O Primeiro Vingador e se tornaria um importante ponto de trama em Capitã Marvel, começamos aqui a tentativa da Marvel de “quebrar paradigmas pero no mucho”. Ele dá a vida para que Tony consiga fugir, além de reconstruir sua cosmovisão acerca de poderio militar.
Que o filme não chega a criticar os princípios militares americanos – em especial por se passar no meio de uma guerra comprovadamente criada por conta de ganância e corrupção – e nem tentar ponderar sobre o conceito de guerra em primeiro lugar é tanto uma oportunidade perdida como algo previsto.
Que o filme não chega a criticar os princípios militares americanos – em especial por se passar no meio de uma guerra comprovadamente criada por conta de ganância e corrupção – e nem tentar ponderar sobre o conceito de guerra em primeiro lugar é tanto uma oportunidade perdida como algo previsto.
O crítico de cinema Siddhant Adlakhafez uma excepcional série de artigos sobre todos os filmes da Marvel para o site SlashFilm (que inspiraram muito neste artigo), e neles ele aborda extensivamente a gênese do MCU: Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, Capitão América 2 – Soldado Invernal e Capitã Marvel foram todos financiados com dinheiro do Departamento de Defesa Americano, com direito a veto de roteiro. Isso impediu o MCU (na maioria das vezes) de falar francamente sobre o que é a guerra, dando uma vazão meio “individualista” a certas coisas que seus heróis fazem.
O Homem de Ferro do primeiro filme não só é um pouco incoerente por “parar de vender armas” (mas continuar produzindo-as incessantemente para seu “uso pessoal”), como não faz a menor distinção de matar seus adversários. Num contexto de guerra como em Capitão América ou num contexto de “sci-fi sem consequências” como em Thor, isso é menos estranho (embora ainda longe de um heroísmo ideal – não que haja uma solução simples a não ser “Chamar o Super-Homem”, que não pode acontecer por problemas de Universos Colidindo”).
Sendo assim, sobra a Marvel evoluir seu personagem-carro-chefe neste paradoxo. Ele é um herói, mas ele e suas armas são um. Torna-se então, a partir de sua participação no primeiro filme dos Vingadores, alguém aficionado com a ideia de proteção.
Sendo assim, sobra a Marvel evoluir seu personagem-carro-chefe neste paradoxo. Ele é um herói, mas ele e suas armas são um. Torna-se então, a partir de sua participação no primeiro filme dos Vingadores, alguém aficionado com a ideia de proteção.
É no primeiro Vingadores que ele coloca o pé na piscina do que podemos chamar de ethosMCU, quando decide se sacrificar para salvar Nova York de uma bomba atômica lançada pelo próprio “Governo Americano” (na verdade, um grupo de “pessoas de terno e gravata nas sombras” que posa como autoridades políticas, para que o filme tenha quem “agir com maldade” sem precisar apontar para um governo americano real).
Esse ethos nada mais é do que a idealização do sacrifício pessoal, e está impregnado em cada canto do MCU. Começando por aqui, Tony dramatiza isso de uma maneira muito conflituosa. A partir de “Nova York”, a psique de Stark vai sempre capitalizar, em forma de ataques de pânico, seu relacionamento com essa ideia. “Ele é responsável pela proteção do mundo e não pode descansar até que o mundo esteja protegido.” É o que leva ele a criar, sem querer, Ultron (James Spader).

Esse ethos nada mais é do que a idealização do sacrifício pessoal, e está impregnado em cada canto do MCU. Começando por aqui, Tony dramatiza isso de uma maneira muito conflituosa. A partir de “Nova York”, a psique de Stark vai sempre capitalizar, em forma de ataques de pânico, seu relacionamento com essa ideia. “Ele é responsável pela proteção do mundo e não pode descansar até que o mundo esteja protegido.” É o que leva ele a criar, sem querer, Ultron (James Spader).

O próprio Tony, que nunca teve uma relação boa com seu pai, tem sempre uma relação complicada com seus “filhos”. E esses dois lados se unem em Capitão América – Guerra Civil. Tanto sua frustração com a ideia de paternidade com a responsabilidade que carrega por conta de Ultron se chocam nesse filme, onde ele quer, ao mesmo tempo, lutar para proteger o mundo, mas não quer a responsabilidade e a culpa.
Por isso, fica do lado do governo quando os eventos de Sokovia desembocam em leis que o colocam em confronto com o Capitão América. E também são os dois paralelos que explodem no momento mais chocante do filme, quando descobrimos o plano real de Helmut Zemo (Daniel Brühl).
Stark é um perfeito exemplo de um dos maiores problemas narrativos da Marvel: seu medo de consequências. Para a dramaticidade de qualquer coisa funcionar, temos que acreditar nos riscos daquilo que está em jogo.
Stark é um perfeito exemplo de um dos maiores problemas narrativos da Marvel: seu medo de consequências. Para a dramaticidade de qualquer coisa funcionar, temos que acreditar nos riscos daquilo que está em jogo.
Só que a premissa de “uma grande saga”, requer que seus jogadores permaneçam em tela sem grandes mudanças (até devolvem um olho pro Thor!), que voltem a um status quo normal, de maneira que nem mesmo Stark sofre sempre grandes consequências por seus atos dentro de um filme (para consertar seu erro na criação de Ultron, a solução de Stark é cometer o mesmo erro, e o filme lhe permite o sucesso), uma vez que os filmes precisam terminar “numa boa”.
Depois de uma batalha profunda, ideológica, emocional e pessoal contra um de seus maiores amigos, Stark e Steve Rogers terminam o filme “numa boa”, com celularzinho e mensagem de “qualquer coisa me liga”. Só mesmo com o advento do fim de contratos a Marvel pode realmente fazer um filme onde (por enquanto) as coisas são pra valer. Nem o final chocante de Guerra Infinita convenceu ninguém.
Em Ultimato, o único empecilho no primeiro ato é ainda um Tony Stark traumatizado com sua perda. Se sacrifício é a ideia central do MCU, vemos Tony se recusando a fazer esse sacrifício, porque não pode perder ainda mais do que já perdeu. Ver seu “filho” morrer em seus braços no final de Guerra Infinita, enquanto falhava na maior de suas neuras, fez Stark desistir daquilo que tinha guiado sua vida até então: a necessidade de colocar a responsabilidade do universo em suas costas. Pega a dádiva do universo de ter ainda sua esposa e vai viver sua vida.
Mas sua neura volta, aliado ao amor que tem pelos amigos e principalmente por Peter Parker. A ideia de trapacear e ganhar sem perder nada é valiosa demais. Nesse percurso de Ultimato, Tony ainda ganha uma chance de resolver as coisas com seu pai, Howard Stark (John Slattery). A chance de buscar uma pequena catarse que une o medo/peso da responsabilidade com o calor do amor que nunca deixou de ter por seu pai e por seu(s) filhos. Tony abraça essa chance, tornando-se finalmente completo.

O caminhar então para a última batalha é mais certeiro e mais firme. E quando finalmente realiza aquilo no qual o heroísmo do Universo Marvel é baseado, Tony ouve aquilo que nunca achou que mereceria ouvir: “Pode descansar agora”. O pai do Universo Marvel nos cinemas finalmente completa sua missão.
Ultimato está mais interessado em seu futuro do que parece, mas, sendo um episódio de conclusão, capitaliza em cima de memória e de nostalgia. Não quer nos fazer lembrar só dos 10 anos de cinema Marvel, mas quer apontar para grandes inspirações do cinema pop americano.
Em Ultimato, o único empecilho no primeiro ato é ainda um Tony Stark traumatizado com sua perda. Se sacrifício é a ideia central do MCU, vemos Tony se recusando a fazer esse sacrifício, porque não pode perder ainda mais do que já perdeu. Ver seu “filho” morrer em seus braços no final de Guerra Infinita, enquanto falhava na maior de suas neuras, fez Stark desistir daquilo que tinha guiado sua vida até então: a necessidade de colocar a responsabilidade do universo em suas costas. Pega a dádiva do universo de ter ainda sua esposa e vai viver sua vida.
Mas sua neura volta, aliado ao amor que tem pelos amigos e principalmente por Peter Parker. A ideia de trapacear e ganhar sem perder nada é valiosa demais. Nesse percurso de Ultimato, Tony ainda ganha uma chance de resolver as coisas com seu pai, Howard Stark (John Slattery). A chance de buscar uma pequena catarse que une o medo/peso da responsabilidade com o calor do amor que nunca deixou de ter por seu pai e por seu(s) filhos. Tony abraça essa chance, tornando-se finalmente completo.

O caminhar então para a última batalha é mais certeiro e mais firme. E quando finalmente realiza aquilo no qual o heroísmo do Universo Marvel é baseado, Tony ouve aquilo que nunca achou que mereceria ouvir: “Pode descansar agora”. O pai do Universo Marvel nos cinemas finalmente completa sua missão.
Ultimato está mais interessado em seu futuro do que parece, mas, sendo um episódio de conclusão, capitaliza em cima de memória e de nostalgia. Não quer nos fazer lembrar só dos 10 anos de cinema Marvel, mas quer apontar para grandes inspirações do cinema pop americano.
A metralhadora de referências ao cinema de viagem no tempo é mais do que só verbal, temos até um momento “Exterminador do Futuro” onde a ligação é visual.
O filme vai em busca de conclusão arcos e alcança até mesmo filmes (bem) menores do cânon para dar aos seus personagens a transformação que precisam.
O filme vai em busca de conclusão arcos e alcança até mesmo filmes (bem) menores do cânon para dar aos seus personagens a transformação que precisam.
Thor – O príncipe liberto

O Thor de 2011 é um filme cheio de excelentes intenções, mas de pouca concretização. Foi o nascimento não só do personagem título, papel do desperdiçado (até recentemente) Chris Hemsworth, mas também de Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e de uma SHIELD mais operacional e corpulenta.
O filme começa a saga do príncipe beberrão, arrogante e idiota, fruto do máximo que o privilégio pode comprar. Seu status natural é o de um deus, embora somente condicionado ao poder de seu martelo. E o contrasta com um príncipe amargo na figura de Loki, criando uma tragédia semi-shakespeariana com um jogo de poder, família e tragédia.
O filme começa a saga do príncipe beberrão, arrogante e idiota, fruto do máximo que o privilégio pode comprar. Seu status natural é o de um deus, embora somente condicionado ao poder de seu martelo. E o contrasta com um príncipe amargo na figura de Loki, criando uma tragédia semi-shakespeariana com um jogo de poder, família e tragédia.
O filme, junto com Thor 2 – O Mundo Sombrio, coloca Thor numa jornada de crescimento onde precisa aprender humildade e compaixão, valores que seu pai, Odin (Anthony Hopkins), falhou em passar por bem, então vai passar por mal: “Quem quer que segure esse martelo, se for valoroso, terá o poder de Thor”. Estabelecemos então uma consequência bastante substancial para um valor moral bastante insubstancial. Valores que só se comprovam em Thor quando ele decide se sacrificar em nome dos outros.
É só depois de se entregar ao Destruidor que Loki envia à Terra que Thor recupera o nível que seu pai demanda para usar seu martelo. Loki vai viajar pelo espaço à procura de vingança e de piadas melhores, e Thor começa a contemplar a ideia de ser rei.
Depois dos embates do primeiro Vingadores, o segundo filme da saga do loirão (para muitos o filme mais fraco em todo o cânon do MCU) busca fazer seu herói crescer, mas sem muito foco, dando a ele pesos emocionais que não dão necessariamente em nada, ao invés de algo que realmente mude ou evolua sua cosmovisão ou seus valores.

É só depois de se entregar ao Destruidor que Loki envia à Terra que Thor recupera o nível que seu pai demanda para usar seu martelo. Loki vai viajar pelo espaço à procura de vingança e de piadas melhores, e Thor começa a contemplar a ideia de ser rei.
Depois dos embates do primeiro Vingadores, o segundo filme da saga do loirão (para muitos o filme mais fraco em todo o cânon do MCU) busca fazer seu herói crescer, mas sem muito foco, dando a ele pesos emocionais que não dão necessariamente em nada, ao invés de algo que realmente mude ou evolua sua cosmovisão ou seus valores.

Até que o diretor neozeolandês Taika Waititi recebeu muito mais liberdade do que o costume para fazer o espetacular Thor – Ragnarok. Não só Waititi fez a descoberta do século: que Chris Hemsworth é um ator cômico excelente, como virou a mesa do jogo de fim temático dos filmes da Marvel.
Ragnarok é um dos primeiros (senão o primeiro) filmes da Marvel onde a luta acaba por ser “progressiva” ao invés de “conservadora”. Não se luta para manter ou recuperar um status quo, se luta para mudar o mundo e dar passos à frente. A vilã, Hela (Cate Blanchett se divertindo como nunca), extrai seu poder da terra de Asgard.
Ragnarok é um dos primeiros (senão o primeiro) filmes da Marvel onde a luta acaba por ser “progressiva” ao invés de “conservadora”. Não se luta para manter ou recuperar um status quo, se luta para mudar o mundo e dar passos à frente. A vilã, Hela (Cate Blanchett se divertindo como nunca), extrai seu poder da terra de Asgard.
Só destruindo o lugar ela será derrotada. É então que o filme dá seu primeiro toque de mestre temático: Asgard é um povo, não um lugar. Começando um diálogo com a crise humanitária (que continuaria em Pantera Negra e em Capitã Marvel), o filme faz de Thor não só um rei e um deus de fato (não mais preso ao seu martelo), mas o rei-deus de um povo sem terra, uma nação de refugiados.
O outro ponto importante que Waititi insere na trama é a crítica ao colonialismo. Thor é forçado a encarar seu privilégio e o histórico sinistro de seu pai. Tudo o que ele tem, o que ele é desde seu nascimento, foi pago com o sangue de outras pessoas que seu pai destruiu com a ajuda de Hela.
O outro ponto importante que Waititi insere na trama é a crítica ao colonialismo. Thor é forçado a encarar seu privilégio e o histórico sinistro de seu pai. Tudo o que ele tem, o que ele é desde seu nascimento, foi pago com o sangue de outras pessoas que seu pai destruiu com a ajuda de Hela.
O filme não trabalha em transformar esse aspecto num conflito direto com o personagem principal (como Pantera Negra faz brilhantemente), mas progride em dramatizar as problemáticas e soluções disso. Thor passa a maior parte de Ragnarok vendo os horrores (cômicos por motivos da genialidade de Jeff Goldblum) de uma opressão política sobre um mundo formado por escravos e povos conquistados.
Nosso herói não quebra só esse paradigma, mas o paradigma que lhe deu todo o privilégio com o plano de libertar Surtur e trazer o Ragnarok real ao seu lar.
Recontextualizar a ideia de lar é o que faz do final de Ultimato tão importante para o fechamento do arco de Thor.
O impacto de Thanos em Thor durante Guerra Infinita – o filme abre com Thanos matando metade de seu povo, seu melhor amigo e seu irmão – porém, faz Thor regredir ao Thor do primeiro filme.
Recontextualizar a ideia de lar é o que faz do final de Ultimato tão importante para o fechamento do arco de Thor.
O impacto de Thanos em Thor durante Guerra Infinita – o filme abre com Thanos matando metade de seu povo, seu melhor amigo e seu irmão – porém, faz Thor regredir ao Thor do primeiro filme.
Por estar em busca muito mais de vingança do que qualquer outra coisa, ele se torna arrogante e inconsequente, mesmo que isso seja só dramatizado em um momento crítico. A soberba “machão” torna Thor um guerreiro sedento não por vitória, mas por sangue. É aí que comete seu erro e deixa Thanos dar seu estalo.


O Thor sobrevivente entra em depressão, negligenciando seu papel de rei, se tornando o Big Lebowski e, a exemplo de Stark, desistindo de tudo.
A parte final de sua jornada consiste em confrontar a primeira de suas perdas, Freya (Rene Russo). A sabedoria de sua mãe reata os nós necessários na vida do deus do trovão. Encarar novamente o dia em que ela morre realinha a ideia de perda que Thor mantinha em si. Ele consegue, finalmente, se libertar daquele luto, e voltar ao tempo presente com a clareza e o foco que precisava.
Depois da vitória, Thor está livre. Finalmente pode se despir do último elo que tinha com Asgard – ser rei. Ele sabe que nasceu para ser um rei, mas, ao passar a responsabilidade para alguém mais capaz, se liberta. Pode ser aquilo que seu destino mandar, não o seu passado. Passado, aliás, que é um peso menor para uns, mas devastador para outros.
A parte final de sua jornada consiste em confrontar a primeira de suas perdas, Freya (Rene Russo). A sabedoria de sua mãe reata os nós necessários na vida do deus do trovão. Encarar novamente o dia em que ela morre realinha a ideia de perda que Thor mantinha em si. Ele consegue, finalmente, se libertar daquele luto, e voltar ao tempo presente com a clareza e o foco que precisava.
Depois da vitória, Thor está livre. Finalmente pode se despir do último elo que tinha com Asgard – ser rei. Ele sabe que nasceu para ser um rei, mas, ao passar a responsabilidade para alguém mais capaz, se liberta. Pode ser aquilo que seu destino mandar, não o seu passado. Passado, aliás, que é um peso menor para uns, mas devastador para outros.
Viúva Negra – Vingadora Quintessencial

Por não protagonizar nenhum filme, e por ser uma femme fatale, a Viúva Negra é um dos personagens principais cuja trajetória é a menos gratificante, mas ainda assim é dela um dos papéis mais críticos de Ultimato.
Scarlett Johansson sempre teve que trabalhar com o que lhe era dado, normalmente o papel de “ruiva sexy” e pouco mais (em especial na sua estreia em Homem de Ferro 2). Mas o que era um papel insosso cresceu, tanto pela maturidade crescente dos filmes, quanto pelo carisma e talento da atriz.
Pouco a pouco fomos descobrindo relances de seu passado que construíram seu personagem – uma assassina treinada por governos sombrios, uma mulher que não tem a capacidade de ter filhos – e, depois do filme anterior, é dela o papel de carregar a essência do heroísmo MCU. É um arco de redenção, mesmo que não muito dramatizado (algo que a Marvel está prestes a corrigir, com um filme só dela), onde ela, que carrega os piores traumas de culpa e de monstruosidade, se torna a detentora da chama dos Vingadores, revertendo um dos maiores problemas de Guerra Infinita.
Hollywood tem muita dificuldade de usar personagens femininas. O problema de representatividade no cinema americano (especialmente o cinema pop americano) é bem fácil de enxergar. Como ainda são muito raros os filmes dirigidos por mulheres, os personagens femininos normalmente são escritos e dirigidos por homens que, embora consigam fazer um trabalho decente algumas vezes, em geral são limitados.
Hollywood tem muita dificuldade de usar personagens femininas. O problema de representatividade no cinema americano (especialmente o cinema pop americano) é bem fácil de enxergar. Como ainda são muito raros os filmes dirigidos por mulheres, os personagens femininos normalmente são escritos e dirigidos por homens que, embora consigam fazer um trabalho decente algumas vezes, em geral são limitados.
E ainda estão tentando prover entretenimento para um público cuja parte feminina nunca é levada em conta. Isso cria questões de funcionalidades bem específicas, que se tornaram tão comuns que são tidas como base. Isso acontece, por exemplo, com a ideia de que personagens femininas não são “personagens em si mesmas”, mas simplesmente “personagens que servem uma função na trajetória do protagonista”.
Enquanto muitos personagens periféricos de filmes realmente estão lá só para servir de escada, as mulheres acabam sendo desprovidas de qualquer agência num número muito maior de vezes. Quando não são simplesmente “o prêmio no final da história”, elas são aquelas que sofrem, são mortas ou raptadas, gerando no personagem principal a necessidade de mover a história para frente. Há até um termo nos quadrinhos para a fetichização da violência contra a mulher como forma de motivar o personagem, “Mulheres em Geladeiras” (para explicar é uma longa história).
E, em Guerra Infinita, Gamora (Zoe Saldana) é exatamente isso. Um degrau no caminho de Thanos, que ele sacrifica, descarta e segue em frente. O que é um desserviço, já que Gamora é um baita personagem nos dois filmes dos Guardiões da Galáxia.
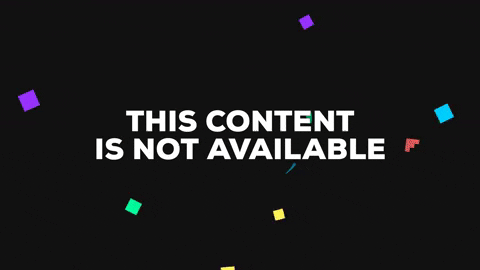
E, em Guerra Infinita, Gamora (Zoe Saldana) é exatamente isso. Um degrau no caminho de Thanos, que ele sacrifica, descarta e segue em frente. O que é um desserviço, já que Gamora é um baita personagem nos dois filmes dos Guardiões da Galáxia.
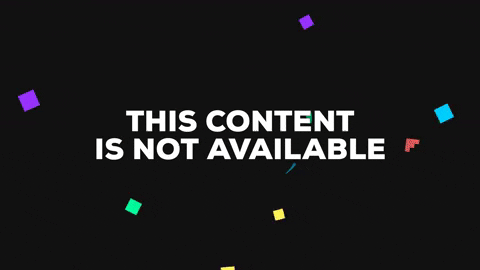
Porém, embora muita gente enxergue a mesma coisa no caso da Viúva Negra em Ultimato, um sacrifício necessário para a história mover-se para frente, o fato de que é decisão dela (e não só isso, já que há um esforço sincero e físico para que o sacrifício se dê), ela rouba a agência dos protagonistas.
E comete um sacrifício pessoal em nome de salvar o universo. A personagem que nunca teve um filme próprio é quem mais claramente traduz o significado dos Vingadores, a ideia de que uma vida pode salvar o universo. Ela abre esse conceito neste filme, e seu sacrifício toca tanto Bruce Banner (Mark Ruffalo) quanto o Capitão América de maneira profunda e emocional. Sem falar do Gavião Arqueiro.
E comete um sacrifício pessoal em nome de salvar o universo. A personagem que nunca teve um filme próprio é quem mais claramente traduz o significado dos Vingadores, a ideia de que uma vida pode salvar o universo. Ela abre esse conceito neste filme, e seu sacrifício toca tanto Bruce Banner (Mark Ruffalo) quanto o Capitão América de maneira profunda e emocional. Sem falar do Gavião Arqueiro.
Gavião Arqueiro – O trauma tem muitas faces

De longe, a mais pesada dramatização de perda que o filme traz é com Clint Barton. Antes mesmo do logo da Marvel, vemos como o Gavião perde sua família. E, ao contrário de Stark, que de fato não perdeu as coisas mais preciosas, Barton não tem mais pelo que viver, só o seu trabalho.
Se torna o Ronin, um justiceiro assassino que caça criminosos e extermina-os sumariamente (o que rende uma participação do excelente ator Hiroyuki Sanada!). A perda completa do que formava a base da vida dele, como vimos em A Era de Ultron, só deixou sobrar alguém em busca da morte, sem mais o que perder.
É nessa gana por um fim que se baseia sua luta com a Viúva Negra. A chance de morrer por algo. Barton não tem mais a esperança de que sua família volte à vida, ele só quer acabar com a própria. Mas o sacrifício precisa de uma função, e é por isso que ele perde a luta e volta para a realidade com a pedra da Alma nas mãos.
Que o universo (ou os roteiristas) decidiram que Barton teria tudo de volta é outro arco se fechando. No diálogo tão central, mas nem tão lembrado em A Era de Ultron (e trazendo toda a marca registrada do diretor Joss Whedon), ele explica para a Feiticeira Escarlate (Elisabeth Olsen) que a limitação de alguém não importa perante o que temos pela frente, o quanto ainda temos que salvar, o mal que ainda temos que destruir.
Se torna o Ronin, um justiceiro assassino que caça criminosos e extermina-os sumariamente (o que rende uma participação do excelente ator Hiroyuki Sanada!). A perda completa do que formava a base da vida dele, como vimos em A Era de Ultron, só deixou sobrar alguém em busca da morte, sem mais o que perder.
É nessa gana por um fim que se baseia sua luta com a Viúva Negra. A chance de morrer por algo. Barton não tem mais a esperança de que sua família volte à vida, ele só quer acabar com a própria. Mas o sacrifício precisa de uma função, e é por isso que ele perde a luta e volta para a realidade com a pedra da Alma nas mãos.
Que o universo (ou os roteiristas) decidiram que Barton teria tudo de volta é outro arco se fechando. No diálogo tão central, mas nem tão lembrado em A Era de Ultron (e trazendo toda a marca registrada do diretor Joss Whedon), ele explica para a Feiticeira Escarlate (Elisabeth Olsen) que a limitação de alguém não importa perante o que temos pela frente, o quanto ainda temos que salvar, o mal que ainda temos que destruir.
O mais humano dos Vingadores, que foi mais longe no abismo de perder sua humanidade, recebe um pouco de piedade das forças que governam os rumos da existência (novamente, os roteiristas). Assim como é o final da história do menos humano dos Vingadores.
Capitão América – O homem sem arco

A “personalidade” do MCU começou com aquela frase de Stark, mas seu coração, o ethos, inicia no momento que o comandante rabugento interpretado por Tommy Lee Joneslança uma granada-fria no meio de seus recrutas, tentando provar para o cientista ao seu lado (Stanley Tucci), de certa maneira, que não existem super-heróis. Então o franzino Steve Rogers se joga na granada e prova que ele está errado.
Não é à toa que o protagonismo de Ultimato, enquanto muito mais pulverizado em Guerra Infinita, cai mais plenamente nos ombros do Capitão América. Não só isso, mas a última imagem do filme é o encerramento de sua macro-jornada através das décadas e dos filmes.
O plano original do primeiro filme dele era ter outro ator interpretando o Steve Rogers “pré-super-soldado”, e Chris Evans lutou para que dessem um jeito de colocá-lo naquela forma. Para ele, aquela era a parte importante da sua atuação, e não a parte “herói de ação”. Porque o Capitão América não é um “personagem” no melhor sentido que temos nos outros.
Steve Rogers, no final de Vingadores – Ultimato é o mesmo Steve Rogers que aparece magricelo no começo de Capitão América – O Primeiro Vingador. Ele só tem mais experiência, 60 kilos de músculos e mágoas. Mas nada do que ele aprendeu fez com que mudasse seu modo de pensar, alterasse sua perspectiva. Há até uma piada na internet que diz que Rogers é o único que é capaz de conhecer dois deuses e permanecer cristão, assim como Tony Stark é o único capaz de conhecer dois deuses e permanecer ateu.
O Capitão América é o líder ideal porque ele é imutável. Ele nunca vai ser indigno de confiança. Ele é o agente de mudança em todos aqueles à sua volta. Em todos os filmes onde é protagonista, Rogers é visto como um farol de persistência e de assertividade moral. Até mesmo os motivos pelos quais sua moral é questionada são motivos excelentes em Guerra Civil. E o final daquele filme sublinha de maneira grosseira quem estava certo.
Rogers é o raro exemplo onde um personagem pode ser emocionalmente humano e limitado (ao mesmo tempo que está “estagnado” em termos de crescimento), e mesmo assim funcionar como um personagem, mesmo que pela via arquetípica. Porque ele, em si, é a parte menos “funcional” da história. Devemos olhar para todo mundo em volta dele. Seus comparsas, amigos, parceiros e interesses amorosos todos são levados a melhorar como seres humanos simplesmente por estarem junto dele.
Assim como a bandeira em seu uniforme, Rogers é um ideal imutável. Ou melhor, é um ideal cuja forma é mutável, já que o que não muda é seu status como “topo do valor moral”, mas “como chegar nesse topo”.
Enquanto no primeiro filme o que valia era “bater em nazistas” (algo que nunca sai de moda), no segundo filme isso dá lugar a “se rebelar contra o sistema”. O filme não tem a elegância moral de criticar abertamente o governo americano e seus problemas (como nos quadrinhos já vimos acontecer), preferindo criar uma alternativa para o foco da vilania.
Porém, com uma leitura metafórica de que “Uma Shield infiltrada por Nazistas da Hydra” está representando aquilo que o Capitão colocava no peito (ainda mais com a brincadeira de “o governo tem o poder de remover a liberdade do povo através da tecnologia”, algo que se mostrou verdadeiro no mundo real), podemos entender que a rebeldia do Capitão é real, e até mesmo é por causa disso que seu padrão moral continua no topo, sem mover-se um centímetro.

E como esse gigantismo moral se comporta diante da tragédia inevitável? Se levantando, pegando seu escudo e indo em direção ao inimigo. Isso não é só o que o Capitão faz, perto do final do filme, mas é o que ele faz no começo. O grupo de autoajuda que ele lidera é exatamente isso. O Capitão está fazendo o que nasceu para fazer, e não precisa de soro de super-soldado ou de escudo de vibranium. Está apontando para onde os outros devem ir.

Se o MCU começa, essencialmente, com a declaração do sacrifício mais altruísta e heroico possível, o que pode ser a maior ameaça de todas?

E como esse gigantismo moral se comporta diante da tragédia inevitável? Se levantando, pegando seu escudo e indo em direção ao inimigo. Isso não é só o que o Capitão faz, perto do final do filme, mas é o que ele faz no começo. O grupo de autoajuda que ele lidera é exatamente isso. O Capitão está fazendo o que nasceu para fazer, e não precisa de soro de super-soldado ou de escudo de vibranium. Está apontando para onde os outros devem ir.

Se o MCU começa, essencialmente, com a declaração do sacrifício mais altruísta e heroico possível, o que pode ser a maior ameaça de todas?
Thanos – O Anti-Vingador

Thanos é também um personagem mais “arquétipo” do que “personagem mesmo”. Contrariando invenções geniais do MCU como Loki ou Killmonger, Thanos é um “personagem sem personagem”, com ainda menos conteúdo “humano” do que o Capitão América.
O maior problema de Guerra Infinita é o seu vilão. E é muito difícil de perceber isso porque Thanos é estupidamente bem feito. A emoção, a sinceridade e a entrega de Josh Brolin e do time de feiticeiros digitais nos dão uma criatura perfeitamente renderizada, articulada e até de certo ponto carismática. Mas para carregar todo o peso de ser o “Darth Vader do Século XXI”, Thanos precisava de razões lúcidas para sua vilania.
Thanos nunca explica “porque quer salvar o Universo”. Só explica que quer salvá-lo com uma teoria malthusiana ultrapassada, e que o faz por ter sido ridicularizado pela liderança de um planeta morrendo. Mas a conexão emocional com sua missão, para a qual o próprio Thanos aponta tanto, é um espantalho oco. Se ela existe, não a vemos no filme. Thanos expressa, de novo e de novo, sobre o quão altruísta é sua missão, mas não nos dá nenhuma base para crer nisso além das lágrimas digitais impossivelmente convincentes de Josh Brolin.
Nos quadrinhos, Thanos tem uma motivação muito mais “bobagem dos quadrinhos”, que é impressionar a Morte. Ele quer matar 50% do universo como se fosse um presente caro para uma mulher, e essa mulher é o espírito da Morte personificada. É bem literalmente uma caveira com peitos. Enquanto essa explicação de que o vilão “só queria transar” jamais colaria na tela do cinema em 2018, pelo menos há uma linha que explica a guia emocional dele, por mais tosca que seja.

Thanos e a Morte
O pouco que temos de uma dramatização de seus motivos nos filmes vai pelo lado oposto do dito altruísmo. Logo no começo de Guerra Infinita, Loki, da maneira mais Loki possível, usa seu último suspiro para alfinetar Thanos onde dói: “Você nunca será um deus”. Vemos que isso incomoda Thanos, que talvez lá no fundo essa missão toda seja só para afagar seu ego e que qualquer “bem” que ele queira fazer é um simulacro infantil.
Mas o filme ignora isso e segue em frente, preferindo colocar na tela “o preço que Thanos paga” ao assassinar a própria filha. Que, segundo as forças cosmológicas do universo, traduzidas pelo Caveira Vermelha (Ross Marquand, substituindo Hugo Weaving), é um ato real de sacrifício, porque Thanos realmente ama sua filha. É infinitamente (risos) mais fraco do que o que temos entre o Arqueiro e a Viúva Negra. Mas parte de porque é fraco é a filosofia própria do vilão, de ser um anti-vingador.
Thanos é a antítese do heroísmo MCU porque ele jamais sacrificaria a si mesmo. Thanos quer sacrificar “o outro” pelo bem maior. Quer que metade do universo viva, às custas da morte dos outros 50%. E, é claro, quer colocar a si mesmo no 50% sobrevivente. Mesmo que o Capitão América seja mais um símbolo do que uma pessoa, ele sempre coloca “aquela pessoa que é” na frente da bala.
Sendo assim, Thanos é só um transporte para o problema. Ele importa muito menos do que “a estalada”, razão pela qual não só ele não é tão importante em Ultimato, como, sem razão nenhuma, muda a ideia de “o quanto quer destruir” no final, só para “aumentar as apostas”. E então ele é vencido, é claro, por um sacrifício pessoal máximo.
Custe o que custar
Inevitavelmente, com contratos acabando e com o trabalho terminando, podemos galgar um preço dramático finalmente verdadeiro. E, mais do que isso, destilar o MCU em uma frase e outro estalar de dedos. O ato final de Tony Stark une tanto a personalidade, o “pós-modernismo” do MCU, com sua origem moral.
E isso nos leva à conclusão de todos os arcos, ao fechamento das histórias. Um final feliz custoso, com menos um sabor amargo e mais uma explosão de imagens insanas (ainda custo a acreditar que eu vi o Homem-Aranha pegando carona num Pégaso), mas sem deixar de dar o tempo emotivo necessário a todas as partes.
A Distinta Concorrência sempre tentou comparar seu herói máximo à figura de Jesus Cristo por isso ser a “metáfora barata e rápida” que mais traria o prestígio moral. Porém, mesmo com o patriotismo bélico atrapalhando muito a comparação, o MCU foi além e fez um dever de casa mais embasado no que realmente significa sacrifício.
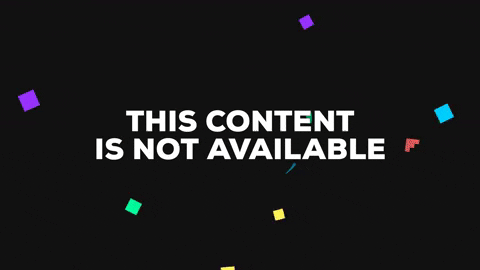
Temos quem se sacrifica pelos amigos. Temos quem se sacrifica pelos colegas. Temos quem se coloca num loop temporal de sofrimento eterno, algo praticamente saído de Ricky & Morty, para evitar a destruição do mundo. Temos um homem tão apegado a seus princípios, princípios esses de empatia e justiça mais do que de vilania, como pode parecer, que prefere a morte do que trair esses princípios.
E temos Tony, Natasha, Steve Rogers, Clint Barton. Temos um grupo imenso e diverso de pessoas que pegam aquele ideal clássico de que as necessidades de muitos sobrepõem-se às necessidades de poucos, ou à necessidade de um, e fazem disso um trono eternizado no imaginário coletivo da cultura pop.
O heroísmo sacrificial é o ethos também do cristianismo. João 3.16 explica isso de forma cósmica, da maneira “Pedras do Infinito”, mas João 15.13 explica isso da forma pessoal, o jeito “pular na granada”. Bem no meio do discurso não sobre o que é amor, mas “para que é o amor”.
Qualquer um consegue reconhecer um herói. Um herói é quem se dá pelo outro. Por algo maior que ele, por um ideal ou pela vida dos outros. E, como demonstrado entre Natasha e Clint, o motor disso é o amor, é a empatia. É o que vamos fazer hoje para salvar o próximo.
O exemplo de Cristo vai muito além de só “morrer”. Ele morreu porque havia amor e porque havia um plano em andamento, um plano de recuperar um universo inteiro. Mas o plano que nos foi estendido é o de amar a todos. É o de se levantar pelos outros mesmo quando não conseguimos. É o de juntar os cacos de uma humanidade quebrada e mostrar para ela que ela existe salvação.
É abraçar os 50% que sobraram. E não desistir de resgatar os 50% que se foram. É ficar diante dos sistemas de opressão e de maldade, os construtos robóticos de manutenção do que há de pior no mundo, da desesperança e do abandono, seja ele físico, social ou espiritual, ficarmos firme entre a ameaça e o fraco, recusando-se a ficar no chão.
E repetir o mantra do Capitão: “Podemos fazer isso o dia inteiro”.
O heroísmo sacrificial é o ethos também do cristianismo. João 3.16 explica isso de forma cósmica, da maneira “Pedras do Infinito”, mas João 15.13 explica isso da forma pessoal, o jeito “pular na granada”. Bem no meio do discurso não sobre o que é amor, mas “para que é o amor”.
Qualquer um consegue reconhecer um herói. Um herói é quem se dá pelo outro. Por algo maior que ele, por um ideal ou pela vida dos outros. E, como demonstrado entre Natasha e Clint, o motor disso é o amor, é a empatia. É o que vamos fazer hoje para salvar o próximo.
O exemplo de Cristo vai muito além de só “morrer”. Ele morreu porque havia amor e porque havia um plano em andamento, um plano de recuperar um universo inteiro. Mas o plano que nos foi estendido é o de amar a todos. É o de se levantar pelos outros mesmo quando não conseguimos. É o de juntar os cacos de uma humanidade quebrada e mostrar para ela que ela existe salvação.
É abraçar os 50% que sobraram. E não desistir de resgatar os 50% que se foram. É ficar diante dos sistemas de opressão e de maldade, os construtos robóticos de manutenção do que há de pior no mundo, da desesperança e do abandono, seja ele físico, social ou espiritual, ficarmos firme entre a ameaça e o fraco, recusando-se a ficar no chão.
E repetir o mantra do Capitão: “Podemos fazer isso o dia inteiro”.

Silas Chosen é roteirista, cineasta, publicitário, ilustrador e é viciado em cinema e histórias. Escreve para sites e programas de rádio sobre cinema, cultura pop e cristianismo desde 2004. Faz parte da 4U Films, ministério de cinema independe
Phonte: Tu Porém


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça um blogueiro feliz, comente!!
Porém...
Todo comentário que possuir qualquer tipo de ofensa, ataque pessoal e palavrão, será excluído sem aviso prévio!